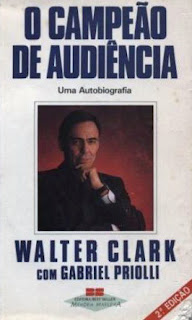Kamel, da Globo, e Serra durante debate eleitoral: mídia conservadora perdeu no campo democrático.
Organização que une empresários, imprensa e oposição ao governo
lembra cenário do golpe de 1964. Seu poder de propagar intrigas e más
notícias, porém, não tem sido capaz de superar a solidez e os resultados
do projeto político em vigor.
Laurindo Lalo Leal Filho, via Revista Brasil Atual
O economista Cristiano Costa foi recebido em fevereiro pelo pessoal
do Grupo A Tarde, em Salvador. A companhia de comunicação, que tem
provedor e portal na internet, agência de notícias, jornal impresso,
emissora de FM, gráfica, reuniu seus profissionais para servirem-se de
uma palestra da série “Millenium nas Redações”. Blogueiro e professor de
uma universidade capixaba chamada Fucape Business School, Costa é
também colaborador cativo do Instituto Millenium, articulador desses
eventos destinados a “aprimorar a qualidade da imprensa no Brasil”.
A base de sua explanação são seus artigos reproduzidos no site do
instituto, em que critica duramente a política econômica do governo e
ataca sem rodeios o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em um deles,
cita o programa Minha Casa, Minha Vida como um dos responsáveis por
inflacionar o setor imobiliário. Isso num ambiente em que até os preços
de imóveis de alto padrão dispararam. As pessoas estão mais seguras no
emprego e foram comprar, a queda dos juros levou mais gente a ter acesso
a crédito, ou mais gente a tirar dinheiro de aplicações financeiras
para investir em imóveis. Há muitos fatores em jogo, mas lá vai o
programa federal destinado a famílias de baixa renda pagar o pato da
especulação.
Outras redações de jornais e revistas foram “brindadas” pelo
Millenium com palestras sobre assuntos variados, da reforma do
Judiciário à assustadora “crise econômica”. O currículo dos
palestrantes, colaboradores do instituto, explica o objetivo real das
palestras: consolidar no meio jornalístico o papel oposicionista da
mídia brasileira.
Há algum tempo os ambientes de redação eram conhecidos por ter
profissionais críticos, independentes, e o direcionamento da informação
era resultado da sintonia dos editores com os donos dos veículos. Não
era incomum a conclusão do jornal ou da revista acabar em atrito entre
repórter e superiores. Agora, os donos dos veículos preferem formar
“focas” que já cheguem às redações comprometidos com suas crenças.
Essas crenças, recheadas de interesses políticos e econômicos, vêm
sendo difundidas de maneira afinada pelos meios de comunicação reunidos
no Millenium. Resultado concreto desse trabalho pôde ser visto neste
início de ano. Três assuntos, alardeados como ameaças ao País, ocuparam
as manchetes dos grandes jornais e foram amplificados pelo rádio e pela
tevê: apagão, inflação e crise na Petrobras.
Além do noticiário parcial, analistas emitiam previsões
catastróficas. Como elas não se confirmavam, o assunto era esquecido e
logo substituído por outro. Em 8 de janeiro, o jornal
O Estado de S.Paulo estampou na capa: “Governo já vê risco de racionamento de energia”. Um dia antes a colunista da
Folha de S.Paulo
Eliane Cantanhêde chamava uma reunião ordinária, agendada desde
dezembro, de “reunião de emergência” do Comitê de Monitoramento do Setor
Elétrico convocada às pressas por Dilma para tratar do risco de
racionamento. Diante da constatação de que a reunião nada tinha de
extraordinária, a
Folha publicou uma acanhada correção. Como de
costume, o tema foi sendo lentamente deixado de lado. O risco do
“racionamento” desapareceu.
Pularam para o “descontrole” da política econômica e a ameaça de um
novo surto inflacionário. “Especialistas” tentavam, a partir dos índices
de janeiro, projetar uma inflação futura capaz de desestabilizar a
economia. Aproveitavam para crucificar o ministro Mantega, artífice de
uma política que contraria interesses dos rentistas nacionais e
internacionais: a redução dos juros bancários está na raiz da gritaria.
Não satisfeitos, colocaram a Petrobras na roda, responsabilizando a
“incapacidade administrativa” dos dirigentes da empresa pela redução dos
dividendos pagos aos acionistas. Sem considerar que, dentro da
estratégia atual de ação da Petrobras, os recursos de parte dos
dividendos retidos passaram a contribuir para o desenvolvimento do país
na forma de novos investimentos.
Variações de uma nota só
Aparentemente isoladas, essas versões jornalísticas são, na verdade,
articuladas a partir de ideias comuns que permeiam as pautas dos
principais veículos. No site do Instituto Millenium elas estão
organizadas e publicadas de maneira clara. O Millenium diz ter como
valores “liberdade individual, propriedade privada, meritocracia, Estado
de direito, economia de mercado, democracia representativa,
responsabilidade individual, eficiência e transparência”. Faz lembrar a
ex-primeira-ministra britânica Margareth Thatcher, que chegou a dizer
que só o indivíduo existe, a sociedade é ficção.
Fundado em 2005, o Millenium foi oficialmente lançado em abril de
2006 com o apoio de grandes empresas e entidades patronais lideradas
pela Editora Abril e pelo Grupo Gerdau. Trata-se de uma liderança
significativa, pois reúne uma empresa propagadora de ideias e valores e
outra produtora de aços, base de grande parte da economia material do
País. A elas juntam-se a locadora de veículos Localiza, a petroleira
norueguesa Statoil, a companhia de papel Suzano, o Grupo Estado e a RBS,
conglomerado de mídia que opera no sul do Brasil. A Rede Globo, como
pessoa jurídica, não aparece na lista, mas um de seus donos, João
Roberto Marinho, colabora.
Essa integração entre empresas de mídia e empresários faz do
Millenium uma organização capaz de formular e difundir programas de ação
política em larga escala, com maior capacidade de convencimento do que
muitos partidos políticos. Com a oposição partidária ao governo
enfraquecida, ocupa esse espaço com desenvoltura.
Apesar do apego declarado à democracia, alguns dos colaboradores não
escondem o desejo de combater o governo de qualquer forma. É o que está
explícito na fala de outro de seus colaboradores, o articulista Arnaldo
Jabor, quando num dos eventos promovidos pelo instituto disse: “A
questão é: como impedir politicamente o pensamento de uma velha esquerda
que não deveria mais existir no mundo?”
Essa articulação faz lembrar a de organismos privados como o
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad), fundado em 1959, e o
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), nascido em 1961. Ambos
uniram empresários e mídia conservadora na formulação e divulgação de
ideias que impulsionaram o golpe de 1964.
“Ipes e Ibad não eram apenas instituições que organizaram uma grande
conspiração para depor um governo legítimo. Elaboraram um projeto de
classe. O golpe foi seguido por uma série de reformas no Estado para
favorecer o grande capital”, lembra o pesquisador Damian Bezerra de
Melo, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
No cenário atual, de decadência do modelo neoliberal e de
consolidação de políticas desenvolvimentistas no Brasil, o Millenium
seria um instrumento ideológico para dar combate a esse processo
transformador. “Nos anos de 1990 ocorreu a disseminação da ideologia do
pensamento único, de que o capitalismo triunfou, o socialismo deixou de
existir como projeto político”, lembra a historiadora Carla Luciana da
Silva, da Universidade do Oeste do Paraná.
“Quando surgem experiências
concretas que podem desafiar essas ideias, aparece em sua defesa uma
organização como o Millenium
para manter vivo o ideal do pensamento
único.”
Memórias de um golpista: Lincoln Gordon com o general Castelo Branco. A CIA patrocinou a ação de 1964.
A difusão dessas ideias não é feita por meio de manifestos ou
programas partidários, como observa a pesquisadora. “É muito difícil
pegar uma revista como a
Veja ou um jornal como a
Folha de S.Paulo e conseguir visualizar os sujeitos que estão produzindo as ideias defendidas ali. Cria-se uma imagem do tipo ‘a’
Folha, ‘a’
Veja,
como se fossem sujeitos com vida própria. É uma forma de não deixar
claro em nome de que projeto falam, como se falassem em nome de todos.”
Contra as versões, fatos
Conhecendo as ações do instituto e seus personagens fica mais fácil
compreender como certos assuntos tornam-se destaque de uma hora para
outra. A presença nos quadros do instituto de jornalistas e
“especialistas” com acesso fácil aos grandes meios de comunicação leva
suas “notícias” rapidamente ao centro do debate nacional. E fica difícil
contra-argumentar com colaboradores do Millenium, não pela qualidade de
seus argumentos, mas pela força de persuasão dos veículos pelos quais
difundem suas ideias.
Como retrucar, com igual alcance, comentários de Carlos Alberto Sardenberg, na CBN, de Ricardo Amorim, na
IstoÉ, na rádio Eldorado e no programa Manhattan Connection, da GloboNews, de José Nêumanne Pinto, no
Estadão e no Jornal do SBT, de Ali Kamel, diretor de jornalismo da TV Globo, entre tantos outros?
Não é mera coincidência a preferência dos integrantes do Millenium
pela subordinação do Brasil aos grandes centros financeiros
internacionais e sua ojeriza diante das relações harmônicas entre
governos latino-americanos. Trata-se de uma tentativa de ressuscitar um
projeto político implementado durante a ditadura que só passou a ser
confrontado, ainda que parcialmente, a partir de 2003, com a posse do
governo Lula.
Mas parece não haver espaço para uma hipótese golpista, apesar do já
citado dilema de Jabor. Para a professora Tânia Almeida, da Unisinos de
São Leopoldo (RS) e diretora de relações públicas da Secretaria de
Comunicação do Rio Grande do Sul, um dos ganhos da crise política de
2005, com a questão do chamado “mensalão”, foi ter forçado análises e
estudos em busca de explicações de como o então presidente Lula
conseguiu suportar tanta notícia negativa e manter elevados índices de
aprovação.
“Não era só carisma. Desde 2003, havia uma gestão de governo em
funcionamento. Não existia somente aquilo de que os jornais e revistas
tratavam, não era só escândalo. Outra proposta política estava
acontecendo”, observa Tânia. Para a professora, os avanços sociais
alcançados não permitem crer em crise que leve a uma ruptura
institucional. “O Millenium é um agente articulador, social, político,
que pode fomentar e aquecer debates, mas não teria potencial para causar
uma crise nos moldes de 1964. O poder de influência da mídia ficou
relativizado desde 2006 em função dessa política que chega lá na ponta e
inclui quem estava fora.”
Damian Melo, da UFF, tem visão semelhante, mas com um pé atrás: “O
Millenium não possui hoje estratégia golpista. Quer emplacar seu
projeto, e isso pode ser pela via eleitoral mesmo. Muito embora nossa
experiência nos diga que é melhor ficarmos atentos.”
Colaborou Rodrigo Gomes
***
O Ibad como modelo
Mauro Santayana
O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad) foi a mais
descarada forma de intervenção norte-americana no processo político
brasileiro, mas não a primeira. No governo Dutra (1946–1951), o grande
desembarque econômico norte-americano no Brasil, os ianques agiam com
desenvoltura na vida brasileira.
Nessa fase, denominada pelo historiador
Gerald K. Haines como “americanização do Brasil”, editoriais dos
grandes matutinos cariocas chegaram a ser redigidos na embaixada dos
Estados Unidos.
O Ibad nasceu da esperteza de um negocista, Ivan Hasslocher. Ele
criou a agência de publicidade Incrementadora de Vendas Promotion para
servir como operadora do sistema e levantou milhões de dólares da CIA e
de empresas norte-americanas, a fim de eleger parlamentares de direita –
já no fim do governo Juscelino, em 1959. Após a renúncia de Jânio
Quadros, em 1961, passou a atuar descaradamente.
Clandestinamente, o instituto financiou, com a cumplicidade do
deputado de extrema-direita João Mendes, a formação de sua própria
bancada de parlamentares comprometidos com sua orientação ideológica. O
embaixador norte-americano no Brasil naquele período, Lincoln Gordon,
confessou, depois, que a CIA fora a principal fonte pagadora de
Hasslocher.
Uma CPI foi instalada em 1963 para investigar o instituto, mas não
pôde ir adiante. Seus membros mais ativos – Eloy Dutra, José Aparecido
de Oliveira, João Dória, Benedito Cerqueira e Bocaiuva Cunha – foram
cassados em 1964. Outro membro ativo, Rubens Paiva, seria assassinado
pelo DOI-Codi em 1971.
Jango foi corajoso ao suspender as atividades do Ibad duas vezes, por
90 dias, até que a Justiça mandou fechar a instituição. Mas já era
tarde. Hasslocher e seus assalariados continuaram a atuar
clandestinamente, em associação com o Ipes. O Ibad tinha também em sua
folha de pagamentos jornalistas, sem falar na adesão “gratuita” dos
donos dos grandes jornais – com exceção do
Última Hora.